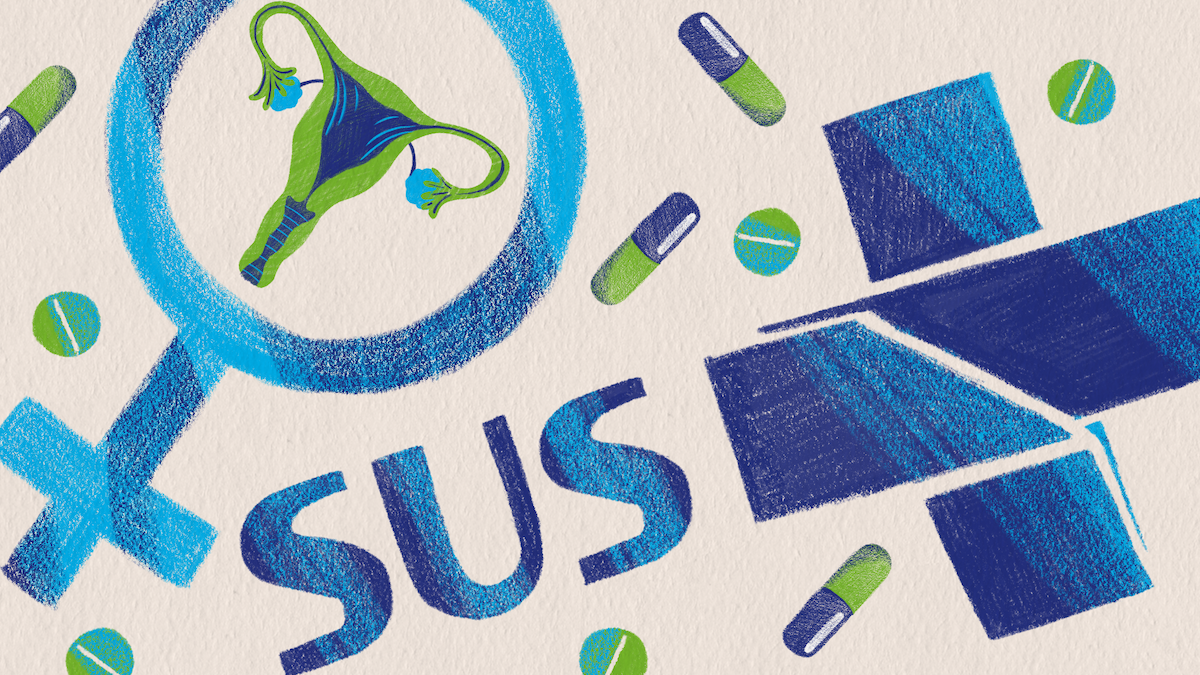Questões como falta de acesso e representatividade dificultam a jornada de mulheres negras para obter o diagnóstico e o tratamento do câncer de mama.
Mais da metade da população brasileira é negra (o que inclui pretos e pardos). Mesmo sendo maioria, a população negra ainda precisa enfrentar uma série de obstáculos impostos pela desigualdade racial presente no país, o que se reflete também na saúde. O racismo afeta a saúde mental, os índices de vacinação e até o risco de sofrer violência obstétrica, que é maior entre mulheres negras. Quando se trata de câncer, não é diferente: elas estão em desvantagem.
Uma pesquisa realizada pelo Instituto Avon em parceria com o Observatório de Oncologia apontou que somente 24% das mulheres que fazem o exame de mamografia são negras, mas, em contrapartida, elas representam quase metade (47%) dos casos graves da doença. O levantamento coletou dados do DATASUS no período de 2015 a 2021.
Já um estudo publicado na revista científica “Breast Cancer Research and Treatment” analisou as taxas de câncer de mama em diferentes grupos raciais no Brasil e apontou que, embora a incidência da doença seja maior entre mulheres brancas, as mulheres negras recebem o diagnóstico em estágio mais avançado e tem um índice de mortalidade três vezes maior.
Além disso, uma pesquisa do Datafolha indicou que o conhecimento sobre o câncer de mama é menor entre mulheres pretas e pardas.
Nos Estados Unidos, por exemplo, a mortalidade por câncer de mama é 40% maior em mulheres negras em comparação com mulheres brancas não hispânicas.
A desigualdade racial no contexto do câncer de mama foi um dos temas discutidos durante o Cura Talks Breast, evento promovido pelo Instituto Projeto Cura, em Gramado (RS), no dia 29 de agosto. O Portal Drauzio conversou com a dra. Ana Amélia Viana, oncologista clínica, especialista em tumores mamários e ginecológicos e coordenadora do Comitê de Diversidade da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), sobre o assunto.
Falta de acesso e pouca representatividade
A dra. Ana Amélia destaca, primeiramente, que as mulheres negras no Brasil são, em sua maioria, usuárias do SUS. Em outros lugares do mundo, como Estados Unidos e Europa, elas também enfrentam situação social de vulnerabilidade, fazendo com que o acesso aos exames de rastreamento seja menor.
“[As dificuldades incluem] poucos mamógrafos, que estão localizados em regiões mais centrais das cidades, e menos acesso a especialistas (pacientes negras demoram mais a conseguir consultar um mastologista, por exemplo, mesmo após ter o resultado de mamografia alterado). No SUS, apenas 34% das mulheres fazem diagnóstico de câncer de mama através de rastreamento. A maioria recebe o diagnóstico depois que já está com sintomas, o que reduz as chances de cura, e 70% das usuárias do SUS são negras. Depois do diagnóstico, vimos que a lei dos 60 dias ainda não é colocada em prática, então há muita demora no início do tratamento, na adesão destas mulheres ao tratamento devido a um baixo suporte social”, afirma a médica.
A lei dos 60 dias a qual ela se refere é uma lei que garante que o paciente diagnosticado com câncer possa iniciar seu tratamento no SUS em até 60 dias após o diagnóstico.
Outro ponto levantado pela especialista é que, até pouco tempo atrás, a representatividade das mulheres negras em campanhas como Outubro Rosa, por exemplo, era muito baixa. “Esse fator dificulta a transmissão da informação pela não identificação com a questão. Isso vem mudando e ajudando as mulheres negras a se sentirem mais perto do cuidado e comprometidas com a sua saúde.”
Do mesmo modo, a baixa representatividade também é observada nas pesquisas e ensaios clínicos que, em sua grande maioria, são feitos com pacientes brancos, o que limita o acesso dessa população aos avanços nos tratamentos. “Dados do FDA [Food and Drug Administration, orgão federal de saúde dos Estados Unidos] de 2016 apontam que a participação de pacientes negros nos estudos clínicos em oncologia está em torno de 3%”, alerta a oncologista.
Veja também: O que há por trás da desigualdade racial em saúde no Brasil?
Racismo estrutural e institucional e o atendimento de saúde
O racismo estrutural é o termo usado para explicar que a sociedade se estrutura em uma base que privilegia uns em detrimento de outros a partir de sua raça. O racismo estrutural favoreceu a construção da situação de vulnerabilidade da população negra, gerando fatores como menor renda, menor escolaridade (o que dificulta o acesso à informação), condições sanitárias piores (aumentando o risco de doenças infectocontagiosas), alimentação de baixa qualidade (com maior consumo de ultraprocessados) e obesidade (mais frequente na mulher negra) – conforme destaca a dra. Ana Amélia.
“Tudo isso é fator de risco para alguns tipos de câncer, além do câncer de mama. Ser negro é um fator considerado pela OMS como determinante social de saúde, contribuindo para piores desfechos de sobrevida pois, além de aumentar a incidência de alguns canceres, aumenta também a mortalidade já que os recursos para o tratamento são mais escassos.”
“Em relação ao tratamento oferecido diretamente a essas mulheres no ambiente de saúde, o racismo institucional [discriminação racial que ocorre em instituições públicas ou privadas] tem sido relatado como um importante fator contribuinte para a pior qualidade do tratamento oferecido e interações médico-paciente. [É importante] lembrar do conceito de viés implícito, em que preconceitos assumidos pela sociedade também estão presentes durante o atendimento de saúde (não só médicos, mas toda a equipe), sem que as pessoas percebam. Na assistência obstétrica, por exemplo, temos dados que mostram que as mulheres negras recebem menos analgesia no parto do que as brancas. E isso vem de uma construção escravista de que nós ‘aguentamos mais dor pois nascemos pra parir’. Na oncologia, já temos esse dado que pacientes negros também recebem menos analgesia quando estão na fase final da doença oncológica”, completa a oncologista.
A discriminação sofrida durante os atendimentos afasta as mulheres dos serviços de saúde. “Dados nacionais sobre a percepção de discriminação dentro do SUS apontam as mulheres negras como sendo as que mais se sentem discriminadas no ambiente de saúde”, diz.
Contudo, esse não é um problema exclusivo do SUS. “A taxa de realização de exames entre usuárias negras de plano de saúde também é menor, podendo ser explicada por uma sensação de não pertencimento e medo de ser discriminada”, complementa a médica.
Por onde começar a mudar esse cenário?
A especialista lista algumas políticas públicas importantes que podem, contudo, ajudar a reduzir as desigualdades no tratamento do câncer de mama:
- Aumentar o acesso à informação e disponibilidade em relação aos exames de rastreamento (não só do câncer de mama, mas também do câncer de colo do útero, por exemplo), trazendo isso para a atenção básica;
- Descentralizar os serviços, levando o exame de mamografia para as periferias;
- Promover uma melhor conexão entre a rede básica e os especialistas;
- Implementar o serviço de navegação oncológica que já está previsto na Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, aprovado pelo Ministério da Saúde, que visa fazer cumprir a lei dos 60 dias;
- Aumentar a representatividade da população negra nas campanhas e informativos, falando mais claramente sobre fatores de risco e prevenção, como obesidade, tabagismo, álcool – que são mais presentes na população negra.
“Informação é autonomia. [É preciso] promover o letramento sobre raça e saúde, alertando a comunidade sobre a importância de conhecer os mecanismos de adoecimento dessa população e como o racismo pode impactar a sua saúde, bem como alertar sobre atitudes racistas dentro do ambiente institucional”, afirma a dra. Ana Amélia.
Além disso, em relação aos profissionais de saúde, é importante personalizar o atendimento – entendendo, por exemplo, que fatores como a raça ou o local em que o paciente vive fazem diferença. “Infelizmente não fomos treinados para isso. Temos uma tendência a seguir uma receita de bolo, em que o paciente é que se encaixa a fazer o que a gente determina. Isso precisa mudar. Entender o contexto social e psíquico de cada paciente, fazendo recomendações que aliem conhecimento técnico com escuta empática, faz a diferença. A era da medicina personalizada não vale apenas para medicamentos. Mas para isso precisamos estar dispostos, ouvir o paciente e se escutar também, perceber onde suas crenças e valores podem contribuir ou dificultar a experiência dele”, diz a médica.
Veja também: Veja quais as doenças mais frequentes na população negra